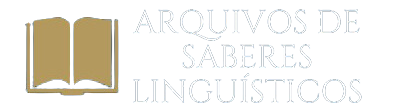SaberLing
Biografia:
Manuel Said Ali Ida (1861-1953)
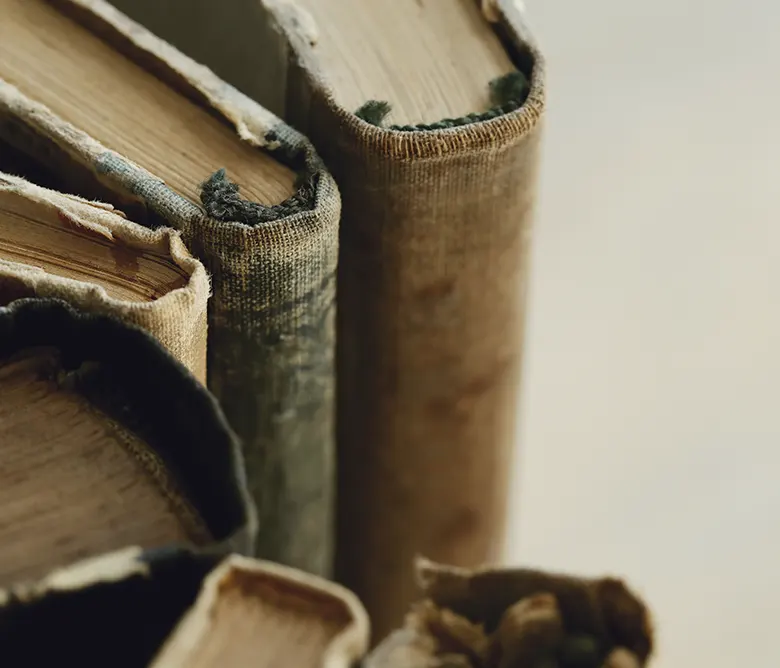
QUEM FOI SAID ALI?
Thaís de Araujo da Costa (UERJ / Posling UFF)
Daniele Barros de Souza (UERJ)
Luís Fernando da Silva Fernandes (UERJ)
Thairly Mendes Santos (UERJ)
Tamanha era a aversão que tinha ao gênero biográfico que “jamais teremos uma biografia do professor Said Ali sem grandes e irremovíveis lacunas”, nos adverte Bechara (2022, p. 205). Apesar disso, não poderíamos apresentar o arquivo em construção sem ao menos tentar esboçar algumas palavras sobre aquele que o intitula, a fim de relacionar a sua produção intelectual à sua trajetória.
Manuel Said Ali Ida nasceu em Petrópolis, em 21 de outubro de 1861, e faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de maio de 1953, aos 92 anos. Sua mãe era a alemã Catarina Schiffler. Seu pai, o turco Said Ali Ida, falecera em 1863, quando o menino contava apenas dois anos de idade. Era dono do Hotel d’Europa, que, deno- minado também de Hotel Oriental, de acordo com o Anuário do Museu Imperial do Rio de Janeiro (Brasil, 1948), ficava em Petrópolis, lugar onde Said Ali nasceu e morou durante boa parte da sua vida.
De acordo com Bechara (1962), um dos seus discípulos mais proeminentes, teria vivido até os 14 anos na cidade serrana, quando então se mudou para o Rio de Janeiro para estudar e trabalhar em um comércio. Não é, contudo, possível precisar essa informação, pois, em entrevista concedida anos depois a Costa e Faria (2022), Bechara afirma que Said Ali se mudara apenas em 1944, após ter se tornado viúvo da alemã Gertrudes Gierling, com quem se casara, em Bruxelas, em 1900.
Uma vez que o casal não tivera filhos, Said Ali, já com 83 anos, teria se mudado para o Rio de Janeiro para morar com uma sobrinha-neta. Até então, ao que parece, como sugerem as datações das cartas enviadas ao renomado historiador e amigo próximo Capistrano de Abreu, se dividia entre sua cidade natal, onde residia com a esposa, e a capital, onde desenvolvia atividades profissionais. Outra possibilidade aventada a partir da leitura de carta enviada por Capistrano a João Lúcio de Azevedo, em 31 de janeiro de 1926, é que Said Ali teria se mudado para a capital a contragosto, a pedido da esposa, após dois falecimentos: o da mãe de Gertrudes aos oitenta anos de idade e, em seguida, o de uma menina de 16 anos que o casal criava como filha em Petrópolis (Abreu, 1977b).
Fato é que, ainda bem jovem, tornou-se colaborador de uma distinta livraria, a Laemmert & Cia, fundada no Rio de Janeiro pelos alemães Henrique e Eduardo Laemmert. Foi por meio dessa editora que publicou suas primeiras obras e que pôde criar vínculos mais estreitos com eruditos da época, dentre estes o já citado Capistrano de Abreu, que também viria a ser seu colega no Colégio Pedro II. Com Capistrano, Said Ali, como anunciado acima, trocou cartas sobre assuntos diversos (1). Uma parte dessa correspondência – especificamente dez cartas enviadas, de 1913 a 1927, por Said Ali para o historiador – foi publicada, na década de 1970, no volume III da obra Correspondências de Capistrano de Abreu, organizada e prefaciada por José Honório Rodrigues. (2)
A partir da leitura das cartas de Said Ali para Capistrano e também deste para outros interlocutores, ficamos sabendo, por exemplo, que o historiador foi quem indicou, em 1919, Said Ali para escrever as três gramáticas (a Histórica, a Secundária e a Elementar) que os irmãos Weiszflog demandavam e – mais do que isso – que ele participou ativamente do processo de escrita comentando e revisando os manuscritos originais (Abreu, 1977a; 1977b). Sabemos ainda, por meio de missiva enviada por Capistrano a Luís Sombra em 7 de dezembro de 1921 – ano de publicação de Lexiologia do português histórico, primeira parte da Gramática histórica da língua portuguesa –, que Said Ali, “na gana de acabar o mais depressa possível com a Gramática”, adoecera, e a esposa, que então não podia sair de casa por causa da mãe idosa, chegou a pedir a Capistrano para acompanhá-lo a uma estação das águas (Abreu, 1977b, p. 60) – o que, dentre muitas outras situações relatadas nas cartas, demonstra a relação próxima existente entre os dois.
Essa proximidade com o estudioso foi elementar para Said Ali intelectualmente, não somente no campo das línguas, portuguesa e indígenas, mas também no histórico-geográfico. Bechara pontua que o seu Compêndio de geografia elementar, de 1905, “foi inspirado na renovação dos estudos geográficos que, entre nós, vinha fazendo Capistrano” (Bechara, 2022, p. 207) e que essa obra “inaugura [...] uma divisão racional das regiões brasileiras – aliás, até hoje aceita –, conciliando, tanto quanto possível, as afinidades econômicas dos estados com as condições geográficas” (Bechara, 1962, p. 4).
Deve-se ressaltar, contudo, que havia reciprocidade na relação entre os dois, tendo sido a amizade com Said Ali também de inegável importância intelectual para Capistrano. Em carta de 7 de janeiro de 1907 a Guilherme Studart (Abreu, 1977a), Capistrano noticia, por exemplo, que conta somente com a ajuda de Said Ali para realizar a correção das provas de um livro que pela data da correspondência acreditamos ser Capítulos de história colonial.
No que respeita às línguas indígenas, por meio de cartas enviadas por Capistrano a Luís Sombra ao longo de 1910, conseguimos depreender não apenas o diálogo constante sobre a estrutura e o funcionamento de diferentes línguas, o que também comparece em cartas de Said Ali para Capistrano, (3) mas também a participação ativa de Said Ali em Rã-txa hu-ni-ku-ĩ: gramática, textos e vocabulário caxinauás (1914), sobretudo no que concerne à composição da parte intitulada “Vocabulário brasileiro-caxinauá”. De acordo com Christino (2006), Sombra, que desempenhava a função de delegado do alto Tarauacá no então território acreano, foi o responsável pelo envio, em 1909, de Tuxinim, um menino com cerca de 13 anos de idade (Abreu, 1914), e de outros informantes caxinauás para colaborar na feitura da obra que, por diversos fatores, incluindo aí um incêndio que destruiu boa parte dos manuscritos originais, seria publicada somente em 1914. Assim, em cartas de 7 de agosto e de 18 de dezembro de 1910, respectivamente, lemos:
Felizmente meu vocabulário não pede senão revisão que levará poucos dias, e Said Ali também está trabalhando no dele. (Abreu, 1977b, p. 18, grifos nossos)
Pretendo partir sábado e levar Tuxinim. Peço-lhe, porém, que consinta continue comigo até sua partida ou até a conclusão da obra. O trabalho extensivo está terminado. A parte intensiva reclama a assistência dele, quer para corrigir o vocabulário, quer para ser comentado quanto à gramática. Além disso no Vocabulário Brasileiro Caxinauá dele precisará com frequência Said Ali. (Abreu, 1977b, p. 21, grifo nosso)
Em Rã-txa hu-ni-ku-ĩ: gramática, textos e vocabulário caxinauás (1914), encontramos dois vocabulários bilíngues: o “Vocabulário brasileiro-caxinauá” – atribuído explicitamente no segundo excerto a Said Ali e, a nosso ver, também no primeiro por meio do pronome dele – e o “Vocabulário caxinauá-brasileiro” – que entendemos ser atribuído no primeiro excerto por/a Capistrano por meio do pronome possessivo meu. Na obra publicada, porém, o nome de Said Ali aparece somente em um agradecimento no capítulo introdutório. (4) Além disso, na parte intitulada “Vocabulário brasileiro-caxinauá”, em um parágrafo de abertura, a autoria é atribuída a Tuxinim.
A participação de Said Ali na obra é também confirmada pelo etnólogo alemão Ferdinand Hestermann (1878-1959) em um artigo intitulado “Die schreibweise der pano-vokabularien – mit benutzung von angaben J. Capistrano de Abreu’s und M. Said Ali Ida’s” (5) e publicado no Journal de la Societé des Américanistes de Paris em 1919. Segundo Hestermann (1919), Capistrano de Abreu teria lhe enviado um pequeno esboço fonético da língua caxinauá escrito por Said Ali em outubro de 1912. O esboço foi publicado na íntegra, como uma espécie de apêndice, ao final do seu texto. Apesar disso, não há notícia até o presente momento de que Said Ali tenha publicado esse esboço fonético no Brasil e a referência que comparece no artigo de Hestermann é a da obra supramencionada de Capistrano, onde de fato encontramos nas páginas referidas um estudo fonético muito semelhante ao que fora atribuído a Said Ali e publicado pelo etnólogo alemão. Tais fatos justificam o não comparecimento de obras sobre essa temática no catálogo apresentado na seção seguinte. A exceção é a tradução de um estudo crítico do etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) realizada por Said Ali e publicada ao final de Rã-txa hu-ni-ku-ĩ a partir da sua segunda edição. (6)
Além de ter atuado intensamente como pesquisador em diversas áreas, depois de ter ensaiado as carreiras de pintor e de médico, segundo Macedo (2011) e Bechara (1962; 2022), Said Ali atuou também no magistério como professor de geografia e de línguas estrangeiras, notadamente de inglês, francês e alemão. Numa época em que colégios notáveis, como o Pedro II, onde foi catedrático de alemão de 1889 a 1925 (Doria, 1997), eram o principal lugar de circulação de saberes, foi o que hoje podemos chamar de um professor-autor, isto é, um professor que, legitimado pela prática científica de sua época, se colocava frente ao campo de saber como autor, chegando inclusive a publicar, como dito acima, um compêndio de geografia e gramáticas das línguas estrangeiras supracitadas. Todavia, em sua vida acadêmica, a língua alemã e a língua portuguesa foram sempre as presenças mais marcantes, sobretudo esta última, em relação à qual se notabilizou como exímio pesquisador, ainda que, como lembra Bechara (Costa; Faria, 2022), dessa disciplina nunca tenha sido professor.
Foi, como dissemos, professor de alemão do Colégio Pedro II e da Escola Militar do Exército, e de alemão e de inglês, de acordo com anúncio publicado no jornal carioca O Tempo em 1894, (7) do Curso Preparatório anexo à Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. (8) No Exército, com a abolição da cadeira durante a I Guerra Mundial (1914-1918), passou a exercer a função de tradutor de textos militares escritos em alemão na Escola Preparatória e de Tática do Realengo e, posteriormente, na Escola do Estado-Maior (Bechara, 1956). Entre os memoráveis alunos do professor Said Ali no Colégio Pedro II, é possível citar nomes de brasileiros consagrados nos estudos da linguagem, como Antenor Nascentes e Sousa da Silveira, e literários, como Manuel Bandeira, que inclusive assina o prefácio à primeira edição de Versificação portuguesa (1949).
Outros acontecimentos marcantes na trajetória de Said Ali foram as frequentes viagens realizadas para a Europa. Em função disso, teve a oportunidade, por exemplo, de ser grande frequentador de congressos internacionais, o que possibilitou seu maior contato com intelectuais estrangeiros e, por conseguinte, com as ideias linguísticas em circulação no solo europeu (Bechara, 1962; Costa; Faria, 2022). Dentre essas viagens, cabe destacar a realizada a serviço do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que resultou na produção de um relatório sobre o ensino de línguas estrangeiras no qual, observando a dificuldade de transcrição de sons característicos de determinadas línguas por meio de letras, defendia a necessidade de se “criar um alfabeto racional que tenha exatamente tantos símbolos quantos forem os sons distintos do idioma em questão” (Ali, 1896, p. 22). Posteriormente, em 1905, em seu Vocabulário ortográfico precedido das regras concernentes às principais dificuldades ortográficas da nossa língua, observamos o emprego de símbolos do Alfabeto Fonético Internacional (IPA), cuja discussão, iniciada na Europa, em 1888, pela Associação Fonética Internacional, seguia em plena efervescência, tendo o segundo quadro do IPA vindo a lume em 1904, apenas um ano antes da publicação do vocabulário de Said Ali.
Leitor dos grandes mestres europeus, como Wilhelm Meyer-Lübke, Ferdinand de Saussure, Hermann Paul, Kristoffer Nyrop e muitos outros, não é, portanto, de se estranhar que o professor Said Ali tenha sido um estudioso atento às questões do seu tempo. Foi, inclusive, o primeiro no Brasil a ler e a citar o Curso de linguística geral – obra de 1916 historicamente significada como marco fundador da chamada linguística moderna. O feito é encontrado no prefácio da segunda edição de Dificuldades da língua portuguesa, de 1919, isto é, apenas três anos após o lançamento da obra editada por Albert Sechehaye e Charles Bally e que teve como base sobretudo as anotações de alunos de Saussure. Nele, lemos: “Nesses fatos encontraria F. de Saussure, creio eu, matéria bastante com que reforçar as suas luminosas apreciações sobre linguística sincrônica e linguística diacrônica” (Ali, 1919, p. VI).
Importante notar ainda que a tradução brasileira do Curso foi realizada apenas na década de 1970, o que nos diz das condições de produção em que se inscreve o gesto de leitura-autoria de Said Ali. Não havendo tradução, o acesso às ideias em circulação na Europa se dava na língua estrangeira, de modo que as constantes viagens e o fato de falar diversas línguas é considerado por muitos como um dos fatores indispensáveis para o seu pioneirismo (cf., por exemplo, Neto, 1955; Silva, 1993). Apesar disso, tendo sido a sua leitura do Curso apagada na história do conhecimento linguístico-gramatical brasileiro, convencionou-se significar o linguista Mattoso Câmara Jr. como o responsável pela introdução dos estudos estruturalistas no Brasil na década de 1940, ou seja, cerca de vinte anos depois da leitura saidalina. É, pois, com base nesses comparecimentos que Pfeiffer, Costa e Medeiros (2022, p. 325) afirmam que “o sintoma da leitura de estudos em circulação no espaço-tempo europeu inscreve as ideias linguísticas filiadas ao nome de autor Said Ali sob o signo da mo- dernidade” – o que, como demonstra Costa (2020; 2021), nem sempre foi bem recebido pelos seus pares.
Embora seja habitualmente rememorado por trabalhos voltados à área da gramática e da linguística, possui ainda em sua extensa bibliografia trabalhos que incluem crítica literária, tendo sido, inclusive, o primeiro crítico literário do Jornal do Brasil. Além disso, também escreveu sobre versificação latina e portuguesa, organizou coletâneas de textos literários de Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias e Castro Alves e realizou diversas traduções, dentre es- tas a do “Relatório da comissão de estudos das escolas secundárias dos Estados Unidos”, publicado na Revista Pedagógica em 1896/1897, e até a de um livro de ciências naturais de autoria do biólogo britânico Thomas Henry Huxley (1825- 1895), em 1916.
Seu mais antigo trabalho descoberto por nós até o momento foi publicado em 1886, quando Said Ali contava apenas 25 anos. O texto veio a lume no periódico A Fanfarra: órgão acadêmico, que, criado pelo jornalista e político Alcindo Guanabara – fundador da cadeira n. 19 da Academia Brasileira de Letras –, teve entre seus colaboradores o literato Olavo Bilac. Trata-se do estudo “Sons e letras”, que faz parte do primeiro número do jornal. Além desse, integram as nossas recentes descobertas as oito colunas de crítica literária escritas para o Jornal do Brasil entre abril e agosto de 1891.
Notas dos autores:
(1) Os manuscritos das correspondências de Capistrano de Abreu encontram-se na Biblioteca Nacional.
(2) Desse conjunto, a correspondência ativa de Said Ali, bem como cerca de uma dúzia de cartas do historiador a interlocutores diversos em que tece comentários sobre Said Ali e sua obra constituem o objeto da pesquisa de iniciação científica intitulada “Arquivo Said Ali: a escrita epistolar como lugar de (re)pro- dução e circulação do conhecimento linguístico-gramatical na primeira metade do século XX”, da qual participam Daniele Barros de Souza e Thairly Mendes Santos (ambas como voluntárias) e participava Luís Fernando da Silva Fernandes (como bolsista).
(3) A última carta de Said Ali a Capistrano publicada no volume III de Correspondências de Capistrano de Abreu encontra-se incompleta e, por isso, sem data e sem assinatura. Nela, todavia, Said Ali alude a informações trazidas por Capistrano em carta anterior sobre o bacairi, língua de um povo indígena de mesmo nome, e tece breves considerações que, de certa maneira, aproximam a estrutura dessa língua à do português (Abreu, 1977b).
(4) Em Abreu (1914, p. 7), encontramos: “Ao concluir não posso omitir o nome do meu colega M. Said Ali Ida, lente de alemão do Colégio Pedro II, a cuja intuição luminosa e opulento cabedal recorri sempre com proveito”.
(5) Em português, “A ortografia dos vocabulários pano – a partir das indicações de J. Capistrano de Abreu e M. Said Ali Ida”.
(6) Uma análise mais detalhada dessas textualidades foi desenvolvida após a submissão deste artigo e pode ser encontrada em Fernandes (2023).
(7) O Tempo, Rio de Janeiro, 14 maio 1894, p. 3. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/ DocReader.aspx?bib=218731&pasta=ano%20189&hf=memoria.bn.br&pagfis=3957. Acesso em: 13 mar. 2023.
(8) De origem privada, essa faculdade fora fundada em 1891 por Carlos Antônio França de Carvalho (Bordignon, 2017, p. 763) e fundiu-se, em 1920, com a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, outra faculdade privada do período, dando origem à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, conforme o site oficial da instituição. Disponível em: https://direito.ufrj.br/sobre-a-fnd/. Acesso em: 31 out. 2023.
Nota da administradora: O texto nesta página reproduzido é uma das seções componentes do artigo "Arquivos em rede: A montagem do Arquivo Said Ali", publicado na revista Acervo - Revista do Arquivo Nacional, v. 36 n. 3 (set./dez. - 2023), de autoria de Thaís Costa, Daniele Barros, Luis Fernandes e Thairly Santos. Para detalhes acerca das referências utilizadas pelos autores e para a leitura do artigo na íntegra, acesse-o gratuitamente clicando aqui.
Para saber mais sobre o autor, recomendamos também a leitura do prefácio e posfácio à obra Manuel Said Ali Ida: Primeiros Escritos & Outros Textos (1886-1945), intitulados, respectivamente, "Said Ali - um intelectual avant-garde", por Thaís de Araujo da Costa e Daniele Barros de Souza e "Presença de Manuel Said Ali na Linguística Brasileira", por Ricardo Cavaliere. A obra em sua íntegra pode ser acessada gratuitamente clicando aqui.